
Em pleno século 21, depois do ser humano ter cruzado (além de épocas remotas): a Idade das Trevas (séc. 14 e 15), o Renascimento (séc. 15, 16 e 17), o Iluminismo (séc. 18), a Sociedade Industrial (séc. 19 e 20, dividida em primeira e a segunda fase) até a nossa Era (da Informação), classificada como a terceira Revolução Industrial (vale ressaltar: o historiador Eric J. Hobsbawm, na obra A era das revoluções, considera como o início da revolução industrial o ano 1780), algumas mentes teimam em acreditar que chegaremos a alguma estabilidade de conhecimento no próximo século, no qual todos terão mentes evoluídas com conhecimentos aprimorados. Não. Nada disso. Pelo menos, até o momento, não se enxerga um patamar elevado de conhecimento para todos.
Enxerga-se, apenas, aumento massivo de informações advindas dos vários meios tecnológicos nos quais tendem a empobrecer mais ainda as mentes distraídas. De certo modo, pode-se dizer que a quantidade (e a velocidade) de informação que chega à mente de um indivíduo é inversamente proporcional ao aumento do conhecimento. Byung-Chul Han, autor do livro O enxame, alude: “a massa de informação não filtrada faz, porém, com que a percepção seja embotada”. Segundo Han, tal circunstância provoca o cansaço da informação (cansaço causado pelo excesso de informação), um distúrbio psíquico, no qual o autor chama de Síndrome da Fadiga da informação (SFI), o estupor crescente da fadiga analítica. Nestas condições, e segundo Voltaire, a razão: “que é doce, humana, que inspira a indulgência, que abafa a discórdia, fortalece a virtude e torna agradável a obediência às leis, começa a perder força”. Entra em cena o pensamento definhado, empobrecido de racionalidade. Instala-se a incivilidade.
O mundo digital fornece as condições cômodas para certas opiniões dissimuladas (sem rosto e sem corpo). O contato direto já não é promissor para se dizer tudo o que der na telha. A liberdade da fala e da escrita por meio das redes sociais como os blogs, twitters, instagram etc. favorecem as apresentações das inúmeras opiniões, e como tudo quando surge vem com o kit completos, estas transportam consigo a fala e a escrita popularesca, muitas das quais devidamente descomprometidas com o outro, sem critérios de temperamento e distinção, é uma espécie de conversa de calçada aberta ao público.
Alguns anos após ter surgido o twitter, e já percebendo o quanto aquele meio tecnológico possibilitava a liberdade de ideias e opiniões (embora na época houvesse limitações de escrita por postagem em cento e quarenta caracteres) Umberto Eco escreveu em sua crônica:
“(…) O Twitter é igual ao bar da esquina de qualquer cidadezinha ou periferia. Falam o idiota da aldeia, o pequeno proprietário que se considera perseguido pela receita, o médico do interior amargurado por não ter conseguido o diploma de uma grande universidade, o passante que já bebeu todas. Mas tudo se consome ali mesmo: os bate-bocas no bar nunca mudaram a política internacional. No geral, o que a maioria das pessoas pensam é apenas um dado estatístico no momento em que, depois de refletir, cada um vota – e vota pelas opiniões emitidas por outro alguém(…)”. (Umberto Eco. Pape satàn aleppe: Crônicas de uma sociedade líquida. Editora Record, Rio de Janeiro: 2017)
Em uma declaração dada numa entrevista, em 2017, o executivo Chamath Palihapitiya (cofundador e CEO da Social Capital, trabalhou também no Facebook entre 2007 e 2011) tece críticas a forma como as redes sociais vêm se estabelecendo no meio social: “Eu acredito que nós criamos ferramentas que estão rasgando o tecido que faz a sociedade funcionar”.
Muitos opinam sobre tudo, mas são poucos os que têm conhecimento mais apurado do conteúdo da fala ou da escrita. A opinião sem credibilidade (a dita verborragia) tomou forma e intensificou-se. Todavia, e similarmente, vem o poder do corte, da censura particular – o contraponto passa a ser mais controlável, podendo excluí-lo com um simples toque do “delete”; ademais, é possível até exortá-lo para o mundo dos bloqueados. Deste modo afloram-se as rebeldias, as desobediências, ausenta-se o respeito entre os cidadãos. Todos buscam expor suas opiniões, muitas das quais são insensatas, não dispõe de credibilidades factuais, porque o que realmente interessa ao opinante é o que sai dele. O dito não é em prol da sociedade, mas sim do próprio opinante.
É neste caldo efervescente na qual destaco duas batalhas:
Humano vs Humano – a guerra híbrida, a guerra por espaço e dominação – poder político e espaço social -, guerra da retórica e a não retórica – guerra de opiniões entre letrados, alfabetizados e iletrados;
Humano vs Peste – o vírus da Covid-19.
A pandemia do Covid-19, e com ela a conjuntura político do nosso país (em destaque: a polaridade política e a postura fanfarrona, arrogante e criminosa do então presidente da república, Jair Messias Bolsonaro) trouxeram ao palco as discursões sobre a ciência. Algumas dessas discursões têm cunho negativo (de sentido embusteiro) e nenhuma credibilidade (desprovido de quaisquer estudos concretos – não são validadas por pesquisas teóricas e/ou experimentações) e buscam desqualificar certas descobertas científicas munidos, tão somente, de verborreia. Não custa lembrar, mesmo a fala (ou a escrita) descomprometida com os fatos, os ditos dos insensatos não têm efeito nenhum sobre as bases cientificas, posto que suas afirmações ignaras não se sustentam. A ciência é uma sequência de revoluções estruturadas (muitas vezes não linear) de construção intelectual de conhecimentos, deste modo, produz efeitos considerável na sociedade. Convém acrescentar a alegação de Edgar Morin em sua obra, Ciência com consciência: “vivemos uma era histórica em que os desenvolvimentos científicos, técnicos e sociológicos estão cada vez mais em inter-retroações estreitas e múltiplas”. Para quem nasceu nos primórdios, ou antes dos anos 80, sabe muito bem como era viver sem as tecnologias atuais.
Desde a sua concepção, lá pelos lados de Atenas, 469 a.C., no percurso da sua história, a ciência vem recebendo influências filosóficas advindas da Antiguidade – Aristóteles (384-322 a.C.) e Ptolomeu (100 d.C.) são os mais influentes nesta época, assim como vários outros pensadores (da teoria e da práxis) – para citar alguns poucos: Nicolau Copérnico (1473-1543), Tycho Brahe (1546-1601), Francis Bacon (1561-1626), Galileu Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Johannes Kepler (1571-1630), Blaise Pascal (1623-1662), Thomas Hobbes (1588-1679) Baruch Spinoza (1634-1677), John Locke (1632-1704), Isaac Newton (1643-1727), Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Voltaire (1694-1778), Rousseau (1712-1778), Diderot (1713-1784), Adam Smith (1723-1790), Immanuel Kant (1724-1804), Pierre Duhem (1861-1916), Alexandre Koyré (1892-1964), Thomas S. Kuhn (1922-1996) e Karl Popper (1902-1994); todos estes, e outros, os quais não foram citados aqui, deixaram importantes contribuições ao conhecimento científico. O filósofo francês Gilles Gaston Granger, citado por Attico Chassot na obra “Alfabetização científica”, destaca: “a ciência é uma das mais extraordinárias criações do homem, que lhe confere, ao mesmo tempo, poderes e satisfação intelectual, até pela estética que suas explicações lhe proporcionam. No entanto, ela não é lugar de certezas absolutas e […] nossos conhecimentos científicos são necessariamente parciais e relativos”.
Assim, e em pleno século 21, de repentemente saem dos seus casulos sob o solo seco, adormecidos pela dopamina da ignorância, embriagados pelo soro letárgico do “boa noite cinderela”, certas mentes cujos estudos baseiam-se em algumas horas acessando as redes sociais e lendo título de reportagens para produzir fake news. Entre estas “nobres” mentes estão àquelas que – acreditem! – defendem que a Terra é plana. Pesquisa do Instituto DataFolha informa que 7% da população brasileira não acredita que o planeta seja realmente redondo. Os “terraplanistas”, como assim são conhecidos, lançam estes desaforos verborrágicos mesmo sendo tão simples, até por experiência comum, demonstrar que a Terra é redonda: observar um barco se distanciando no horizonte, observar um eclipse lunar, prestar atenção aos fusos e comparar com as dos outros países, são algumas possibilidades de se chegar à conclusão na qual o planeta é redondo (na verdade ela é geoide, formato esférico com algumas alterações em sua superfície devido as forças gravitacionais, e, ademais, achatada nos polos, por conta da velocidade de rotação, cerca de 1600 km).
Outra polêmica levantada está relacionada as vacinas nas quais, atualmente, sofrem ataques das fake news: 1 – vacinas podem causar doenças mais simples ou mais complexas, 2- as vacinas deixam sequelas em curto e longo prazo, 3 – as vacinas causam efeitos colaterais “se você virar um jacaré, é problema seu” (disse Bolsonaro, em dezembro de 2020, quando questionava a vacinas da Pfizer), ou ainda, 4 – “não há nada comprovado cientificamente sobre essa vacina aí” (disse Bolsonaro, em janeiro de 2021, quando falava da CoronaVac).
Não é de hoje que as vacinas são tratadas dessa maneira, na história há vários casos de empreitadas contra elas, por exemplo: a revolta da vacina em 1904, ocorrida no Rio de Janeiro, palco de intensos conflitos (passeatas, incêndios, depredações e confrontos); nos Estados Unidos e na Europa, em 1980, as pessoas provocaram tumultos para não aprovação da vacina DTP (Vaccine Roulette); em Londres, em 1998, o alvoroço foi provocado por um médico ao publicar um certo trabalho no qual descaracterizava a ação da vacina MMR, estaria relacionada ao desenvolvimento do autismo (considerado uma inverdade tempos depois).
Convém destacar, todas as descobertas científicas são passíveis de serem contestadas. A ciência não veio como uma reveladora da verdade – embora houve fatos históricos nos quais colocaram a mesma como tal. Seu objetivo consiste em apresentar (por meio do seu método) verdades relativas, ou seja, contestáveis. Na modernidade, reconhece-se a importância da ciência como um conhecimento no qual leva ao processo do inventar e do testar para, em seguida, aceitar ou rejeitar hipóteses (suposições), ou seja, o conhecimento abordado deve resultar de hipóteses passíveis de testes, que pode ser replicável e falseável. A. F. Chalmers em sua obra, O que é ciência afinal?, aborda a evolução da ciência e aponta que o método científico não é uma entidade inerte, mas, e sobretudo, continuamente dinâmica, sofre transformações quando erros e barreiras limitantes são reconhecidas. As ações, sejam elas físicas ou teóricas, estão limitadas pelo mundo externo, e é a partir deste mundo (da realidade) no qual há acomodações para novas teorias. J. I. Pozo, doutor em Psicologia pela Universidade Autónoma de Madri, assegura que a ciência é um processo e não apenas um produto acumulado em forma de teorias ou modelos.
Lembro, também, que há teorias ainda não testadas, no entanto são apreciadas pela ciência: princípio da incerteza, do alemão Werner Heisenberg; hipótese de gaia, defendida pelo biólogo inglês James Lovelock e consideradas atualmente a Bíblia dos ecologistas; buraco de verme, Alan Guth, do Massachusetts Institute of Technology, entre tantas outras.
A ciência Pós-Moderna tem como marca as incertezas. Cada descoberta, cada resposta obtida através da pesquisa revela uma nova pergunta. São as perguntas quem move a ciência, e não as respostas. A medida em que se descobre algo, aprimora-se o conhecimento da coisa descoberta, e novas perguntas surgem para serem desvendadas. O desvendamento das perguntas gera novos problemas, que serão estudados e postos em modelos que se assemelham a realidade; e aqueles, por sua vez, passarão pelo processo de falseamentos. Grosso modo, este é o caminho da ciência.
Todavia, quando ela é usada de maneira inapropriada, até mesmo por desconhecimento, pode provocar grandes estragos. Diversos erros ocorreram ao longo da história da ciência, alguns deles foram pertinentes; outros, perigosamente impertinentes, a talidomida é um deles. Também é fato que toda e qualquer vacina não é 100% segura. Aliás, nenhum medicamento é 100% seguro. As próprias descobertas não são 100% seguras. Desta forma, precisamos creditar confiança na ciência, embora não devamos ser negligentes diante das suas aplicações. A ciência é produzida pelos seres humanos, passivos de falhas, carregados de sentimentos e desejos. Hoje já se discute certos desvios impróprios nos estudos científicos como por exemplo: a vinculação da nossa alimentação a matrizes genéticas, a utilização de sementes hibridas, a dominação do mercado de químicos entre empresas como a Basf e a Bayer: uma produz agrotóxicos, e a outra, medicamentos. Faz-se necessário haver controle do uso desta ferramenta a fim de garantir uma evolução em prol da sociedade. Para isto, necessitamos de uma educação humanista capaz de implementar atitudes que promovam a formação cidadã, o ser civilizado. Segundo Zygmunt Bauman (filósofo, professor e sociólogo polonês), em sua obra Modernidade líquida, citando Richard Sennett (sociólogo e historiador norte-americano), a civilidade é “a atividade que protege as pessoas umas das outras, permitindo, contudo, que possam estar juntas”.
Por fim, e sem mais delongas, somente um povo educado (com a “cabeça bem-feita”) é capaz de transformar a informação em conhecimento pertinente (conhecimento sofisticado), apto a reconhecer o lugar da ciência e sua importância para a sociedade. A formação cidadã possibilita contextualizar e englobar o conhecimento obtido. Contudo, lembrem-se, devemos sempre ficar à espreita. Tudo poderá mudar a qualquer momento.

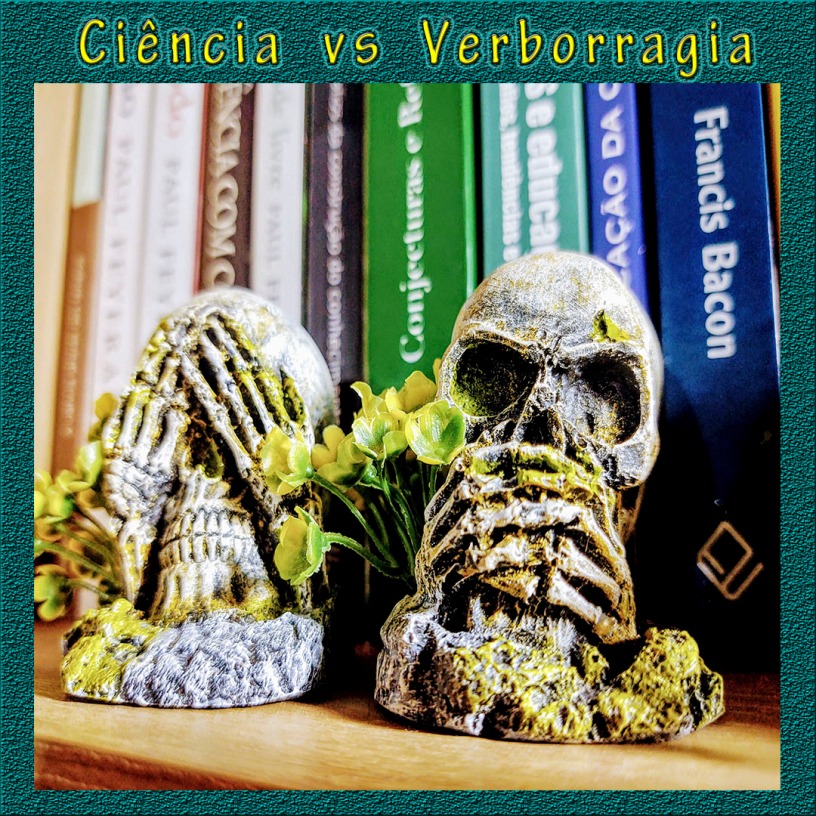
Republicou isso em REBLOGADOR.
CurtirCurtir
Olá Eder, agradeço a republicação do texto.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Opa!………….parabéns pelo post!…………….
CurtirCurtir